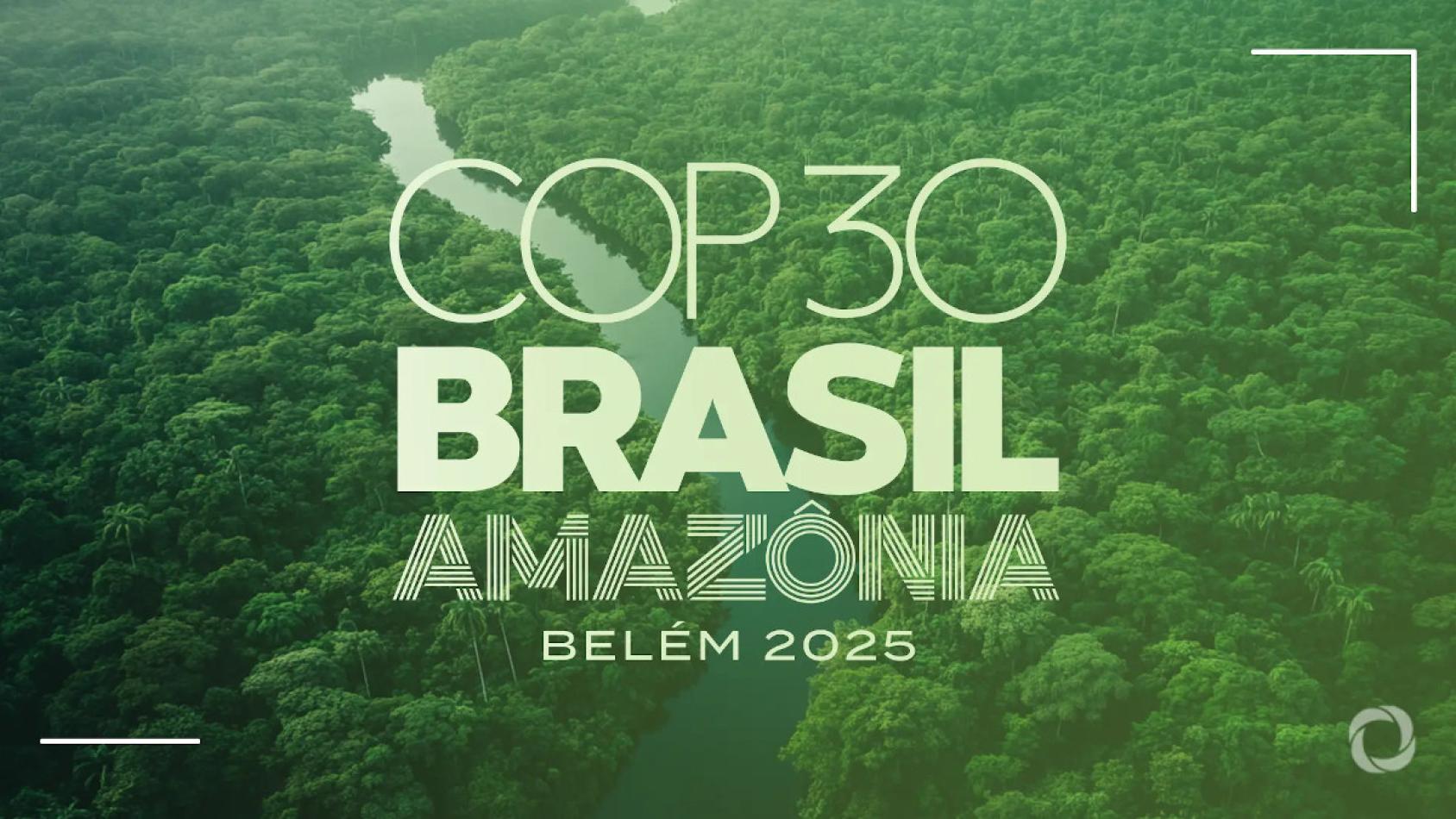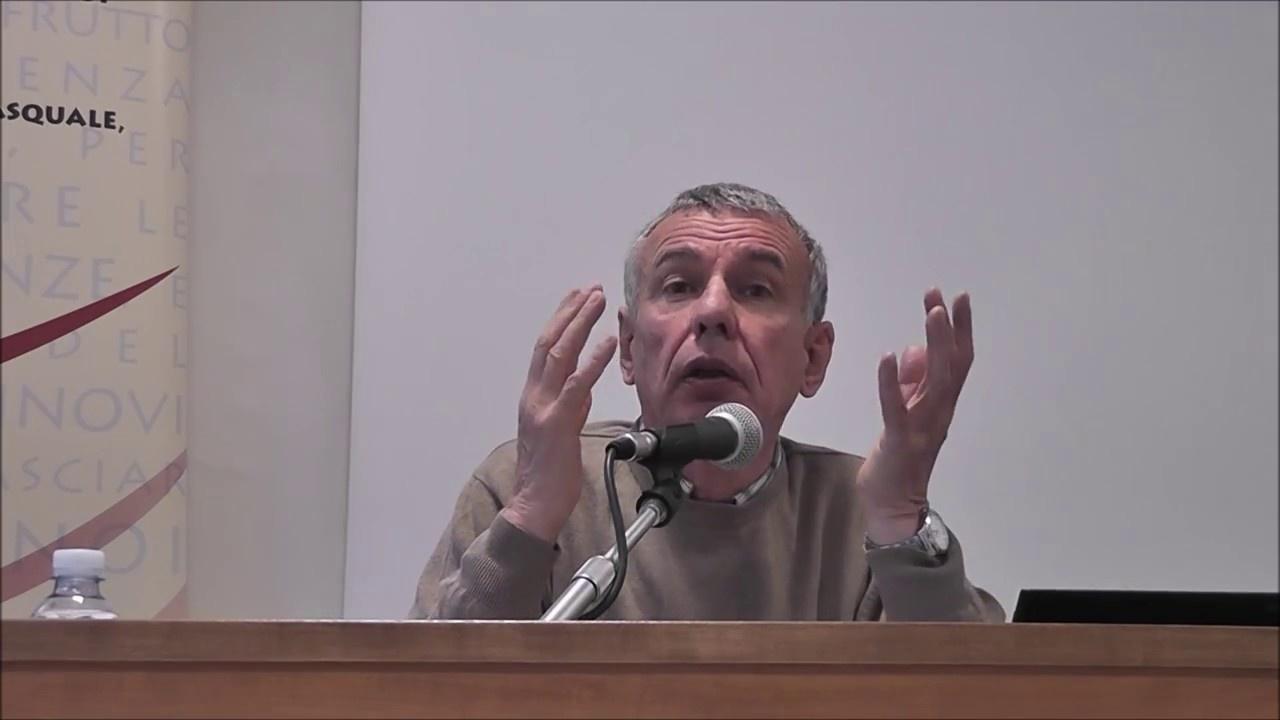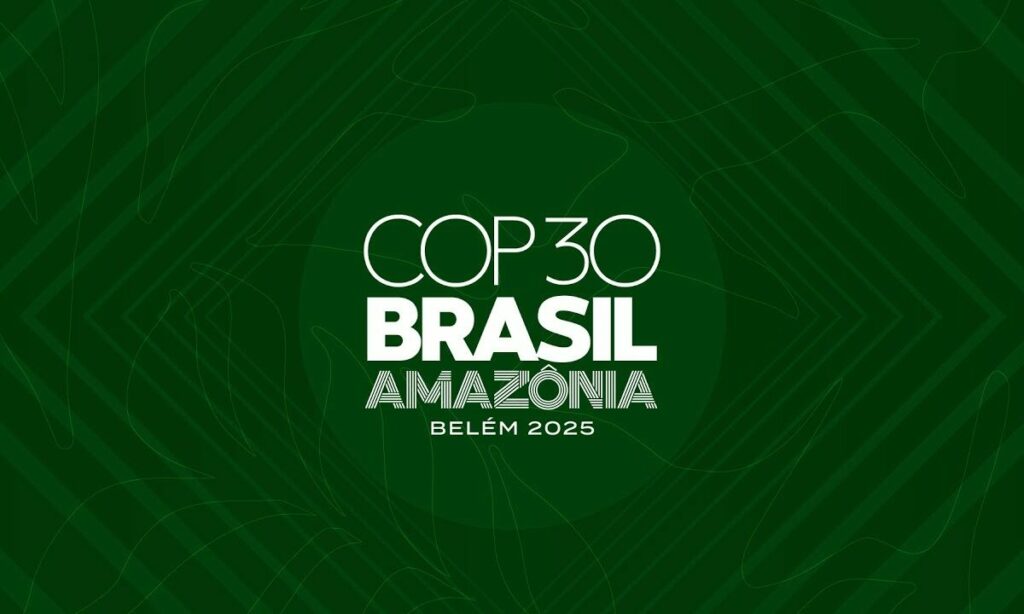Daniel Comboni
Missionários Combonianos
Área institucional
Outros links
Newsletter
Sexta-feira, 7 de novembro de 2025
De 10 a 20 de novembro, Belém do Pará, às margens do rio Guamá e no coração da Amazônia, receberá a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). O evento, conhecido como COP30, marca três décadas de negociações multilaterais sobre o clima — três décadas de esperanças renovadas e frustrações recorrentes. Trata-se de um momento carregado de simbolismo: pela primeira vez a COP acontece na Amazônia. [Credit Photo Development Aid]
A Igreja e a COP30.
Uma aliança em defesa dos territórios e do protagonismo dos povos
Um dos maiores legados do Papa Francisco é a perspectiva da Ecologia Integral. Trata-se de uma leitura lúcida, enraizada na fé e sustentada cientificamente, diante do grave e urgente contexto de colapso ambiental e climático. A Ecologia Integral é uma visão que integra espiritualidade, ética e ação sociotransformadora. Seu propósito é anunciar o Evangelho de modo capaz de questionar uma economia que mata, iluminar a política e promover de forma efetiva o Bem Comum.
Essas são as convicções que sustentam, nos últimos anos, a participação ativa da Igreja no processo das Conferências das Partes da ONU sobre o clima, as chamadas COPs. A encíclica Laudato Si’ foi publicada poucos meses antes da COP21, em Paris, e influenciou profundamente aquele encontro multilateral. Mais recentemente, preocupado com a falta de compromisso das nações após Paris, o Papa Francisco lançou a exortação Laudate Deum, às vésperas da COP28, no Azerbaijão.
A presença da Igreja nesses eventos acontece em diferentes níveis. Destacam-se três dimensões principais: a fase preparatória, a participação junto aos povos e movimentos populares durante a COP, e a presença na Blue Zone, o espaço institucional onde os Estados negociam acordos globais e buscam um compromisso coletivo. Na COP30, marcada para acontecer em Belém, a Igreja também se faz presente nesses três níveis, que apresentaremos a seguir.
O principal esforço da Igreja concentrou-se na fase preparatória, investindo sobretudo em educação popular e mobilização comunitária. De fato, existe uma grande distância entre os processos globais de negociação climática e a vida cotidiana das comunidades do campo, da floresta e das cidades. Estamos convencidos, porém, de que a história do clima se transforma principalmente a partir dos territórios, quando às comunidades são garantidos o direito à terra, a seus planos de vida e a economias locais sustentáveis, profundamente integradas ao ecossistema.
Por isso, a Igreja no Brasil promoveu diversas atividades de formação, envolvendo comunidades e reafirmando sua aliança com a causa indígena, dos povos afrodescendentes, da agricultura familiar e dos movimentos populares urbanos. A Campanha da Fraternidade de 2025, que inspira reflexões, celebrações e compromissos pastorais em todo o país ao longo do ano, teve como tema central a Ecologia Integral.
Além disso, a plataforma Igreja rumo à COP30 organizou cinco eventos macro-regionais, chamados “pré-COP”, destinados a formar multiplicadores(as). Estes, por sua vez, realizaram iniciativas menores e capilares em dioceses, paróquias, escolas e universidades. O grande desafio — e também a principal aposta — desses encontros foi conectar as lutas e propostas em curso nos territórios com as reivindicações apresentadas ao governo brasileiro, em diálogo com o Plano Climático Nacional e com as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que cada país deve apresentar à COP.
Para sustentar esse processo, foram elaborados diversos materiais pedagógicos e pastorais, como o Guia para Multiplicadores(as) da COP30, manuais de formação para escolas e subsídios para rodas de conversa e aprofundamento popular sobre os principais temas em debate na conferência.
Outra dimensão significativa da participação da Igreja foi a incidência política. A Igreja no Brasil contribuiu de maneira decisiva para a elaboração de um documento que reuniu também aportes de outras Igrejas locais da América Latina, da África e da Ásia, resultando em “A Call for Climate Justice and the Common Home: Ecological Conversion, Transformation and Resistance to False Solutions”.
Esse documento foi entregue ao Papa Leão XIV pelos três cardeais presidentes das conferências episcopais desses continentes e se tornou um importante instrumento de incidência política. Ele foi apresentado na Conferência de Bonn, preparatória à COP30, e serviu de base para uma carta aberta enviada às Nações Unidas. O texto reivindicava que todos os Estados assumissem a responsabilidade de apresentar NDCs consistentes, compatíveis com a gravidade da crise climática e à altura dos desafios que ela impõe.
Todo esse processo preparatório desemboca, naturalmente, na presença ativa da Igreja durante a COP30. Desde o início, a Igreja não se considerou um sujeito isolado ou independente; por isso, atuou ao longo de 2025 em articulação com movimentos populares, organizações não governamentais e entidades representativas dos povos indígenas e comunidades tradicionais, contribuindo para a construção da Cúpula dos Povos. Integrada por mais de mil organizações nacionais e internacionais, a Cúpula constitui a mais ampla articulação da sociedade civil em torno da conferência. Atuou intensamente nos meses anteriores e, durante o evento, realizará atividades, debates e uma grande marcha mundial.
De forma complementar, a Igreja Católica participa também do Tapiri Inter-religioso, processo que articula diferentes tradições de fé em defesa do clima e da Casa Comum. Nessa iniciativa, destacam-se atividades com a rede Igrejas e Mineração, que testemunham a resistência das comunidades afetadas por empreendimentos predatórios.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por sua vez, organizará um simpósio que reunirá representantes do mundo religioso, científico e indígena em um debate de alto nível. O encontro será seguido de uma procissão e de uma celebração eucarística internacional, na qual todo o compromisso socioambiental será colocado sob a bênção de Deus e de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia.
Por fim, a Igreja também marcará presença na Blue Zone, com debates temáticos e a participação ativa dos cardeais presidentes das conferências episcopais continentais da África, da Ásia, da América Latina e do Caribe — as chamadas “Igrejas do Sul Global”.
A realização da COP30 na Amazônia e a participação consolidada da Igreja em todo o processo confirmam que a defesa da Casa Comum tornou-se um compromisso permanente e irreversível das comunidades de fé. A religião, em suas diversas expressões, é uma dimensão fundamental para inspirar mudanças, unir povos e fortalecer a responsabilidade comum diante da crise climática. A própria COP30 reconheceu esse papel ao constituir o Balanço Ético Global, reunindo religiões, tradições de fé e expressões culturais em torno de um chamado conjunto pela vida e pela justiça climática.
Essa convergência inédita entre ciência, política, espiritualidade e cultura é fonte de esperança. Demonstra que a humanidade não está sozinha, mas conta com a força moral, espiritual e comunitária das tradições religiosas que, junto aos povos e movimentos sociais, podem abrir caminhos de conversão ecológica, solidariedade global e renovação do pacto entre Deus, a humanidade e a criação.
Padre Dario Bossi, mccj
A COP30 reúne as contradições
que marcam todo o processo climático
1. Introdução
Em novembro de 2025, Belém do Pará, às margens do rio Guamá e no coração da Amazônia, receberá a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). O evento, conhecido como COP30, marca três décadas de negociações multilaterais sobre o clima — três décadas de esperanças renovadas e frustrações recorrentes. Trata-se de um momento carregado de simbolismo: pela primeira vez a COP acontece na Amazônia, região que abriga não apenas uma das maiores biodiversidades do planeta, mas também a vulnerabilidade e a resistência de povos que têm sido guardiões da floresta e de modos de vida sustentáveis.
As expectativas são grandes. Para muitos, Belém será o momento decisivo em que a agenda climática deve sair do papel. Ao longo das últimas conferências, foram desenhados mecanismos importantes — financiamento climático, adaptação, perdas e danos, transição justa —, mas quase sempre acompanhados de promessas adiadas. Agora, o desafio central é mobilizar recursos concretos, enfrentar a resistência dos interesses fósseis e transformar compromissos em políticas verificáveis. A esperança é que Belém represente um salto qualitativo: que os textos negociados em Bonn, Dubai, Baku e em tantas outras conferências encontrem, enfim, sua tradução em ações efetivas.
Mas há também o risco da decepção, já quase habitual no processo climático.[1] Como lembra o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si’, a crise ambiental e social não pode ser reduzida a fórmulas técnicas, mas exige mudanças profundas nos estilos de vida e nos modos de organização econômica e política.[2] As grandes conferências, muitas vezes, fracassam em oferecer respostas proporcionais à urgência. Por outro lado, podem se tornar ocasião para novos processos vindos das bases: comunidades, povos e organizações que traduzem a defesa da vida em práticas concretas de solidariedade e cuidado.
A COP30 será, assim, um palco ambivalente. Promessas de avanços diplomáticos convivem com a persistência das forças que retardam a transição ecológica. Mas também — e talvez sobretudo — será um espaço de encontro: de movimentos indígenas que exigem a demarcação de terras, de jovens que sonham com futuros diferentes, de Igrejas e organizações de fé que trazem sua voz profética. Belém pode ser lembrada não apenas pelas negociações entre Estados, mas pela vitalidade das ruas, rios e comunidades que nela se encontram. É dessa tensão que podemos refletir sobre expectativas, avanços e possíveis frustrações do próximo encontro climático mundial.
2. AGENDA OFICIAL DE NEGOCIAÇÕES: ENTRE BONN E BELÉM
As conferências intermediárias realizadas em Bonn (SB62), em junho de 2025, serviram como termômetro para o que estará em disputa em Belém. A cada ano, os órgãos subsidiários da UNFCCC — o SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) e o SBI (Subsidiary Body for Implementation) — produzem rascunhos e relatórios que, em tese, deveriam preparar o terreno para consensos. Porém, mais uma vez, o processo revelou suas limitações: muitos textos permaneceram entre colchetes, fórmulas provisórias não chegaram a conclusões e questões centrais foram empurradas para a mesa amazônica.
2.1 O balanço histórico: avanços e lacunas
A história recente das COPs é marcada por passos significativos, mas também por limites. Em 1997, a COP3 em Kyoto inaugurou o primeiro regime vinculante de redução de emissões, restrito a países desenvolvidos.[3] Em 2009, a COP15 em Copenhague lançou a promessa de US$100 bilhões anuais em financiamento climático — compromisso que só se materializaria décadas depois.[4] Em 2015, a COP21 em Paris representou um divisor de águas: quase todas as nações se uniram em torno da meta de limitar o aquecimento global a bem menos de 2°C, idealmente 1,5°C, sustentadas por compromissos voluntários, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).[5] Em 2023, a COP28 em Dubai trouxe a criação do Fundo de Perdas e Danos (FRLD),[6] mas ainda sem recursos claros, e um Balanço Global (GST) inicial aquém do esperado.[7]
Nesse arco histórico, cada conquista parece evocar sua própria incompletude: regimes são criados, mas permanecem frágeis; metas são anunciadas, mas carecem de implementação. Essa herança contraditória é o que Belém terá diante de si.
2.2 Adaptação climática: métricas em disputa, planos em espera
Na agenda de adaptação, o debate concentrou-se nos Indicadores Globais de Adaptação (GGA), criados pelo Acordo de Paris para medir se o mundo se torna mais resiliente. O processo de redução de milhares de propostas resultou em cerca de cem indicadores principais, cobrindo agricultura, água, saúde, biodiversidade, infraestrutura e resiliência comunitária.[8] Em Bonn, contudo, evidenciou-se a divisão: países desenvolvidos defendem indicadores genéricos e sem vínculo a recursos, enquanto países em desenvolvimento insistem que, sem financiamento, tecnologia e capacitação — os chamados “meios de implementação” (MoI) — o GGA será apenas retórico.
Outro eixo central foram os Planos Nacionais de Adaptação (NAPs), concebidos para orientar a estratégia de cada país na matéria. Muitos ainda não foram apresentados e, entre os já existentes, prevalece a falta de apoio técnico e de financiamento.[9] Esse ponto conecta-se ao desafio mais amplo do financiamento para adaptação climática, que permanece aquém das necessidades globais. Relatórios estimam que os custos de adaptação nos países em desenvolvimento podem chegar a US$215–387 bilhões por ano, mas os fluxos atuais estão muito abaixo disso, cobrindo apenas uma fração da demanda.[10] Assim, Belém segue com um triplo desafio: consolidar indicadores globais, fortalecer planos nacionais e ampliar o alcance dos instrumentos financeiros, para que adaptação deixe de ser uma narrativa abstrata e se torne um eixo efetivo da ação climática.
2.3 Finanças climáticas: a promessa adiada
No campo do financiamento climático, as negociações continuam a expor a distância entre compromissos assumidos e os meios para implementá-los. Na COP29, em Baku, foi acordado o Novo Objetivo Quantificado Coletivo (NCQG), destinado a suceder a meta dos US$100 bilhões no período pós-2025. A chamada Rota Baku–Belém projetou a mobilização de US$1,3 trilhão até 2035, o que corresponderia a cerca de US$300 bilhões por ano.[11] No entanto, nas rodadas de Bonn, as conversas não avançaram na definição dos mecanismos necessários para tornar esse compromisso viável — como fontes de recursos, prazos de desembolso e responsabilidades —, adiando a decisão para a COP30 em Belém.
O impasse não se resume ao volume de financiamento. Persiste a disputa sobre a natureza dos recursos: países desenvolvidos tendem a privilegiar instrumentos de mercado e empréstimos, enquanto países em desenvolvimento clamam por doações, fundos concessionais e mecanismos de alívio da dívida. Relatórios técnicos também alertam para as dificuldades em rastrear fluxos privados e garantir transparência.[12] Essa desigualdade estrutural — entre promessas, recursos efetivos e necessidades reais — mantém o financiamento climático como um dos maiores testes de credibilidade do regime. Diante das disputas sobre os meios de implementação da NCQG, a Rota Baku–Belém estará no centro das negociações da COP30, funcionando como termômetro da capacidade do processo multilateral de transformar compromissos em resultados concretos.
2.4 NDCs e a revisão da ambição
As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) deveriam ter sido apresentadas até a COP29, mas apenas uma fração dos países cumpriu o prazo. Em Bonn, a ausência de novos compromissos foi percebida como sinal de estagnação. Agora, espera-se que até Belém mais países submetam suas metas atualizadas, sob a pressão de que elas sejam alinhadas ao limite de 1,5°C. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a convocar os países a apresentarem suas NDCs até Belém, sinalizando que esse será um dos testes de credibilidade da conferência.[13]
2.5 Perdas e danos: entre mecanismos e lacunas
O Mecanismo de Varsóvia (WIM) e o Fundo de Perdas e Danos (FRLD) voltaram à mesa em Bonn em meio a discussões sobre seu alcance e integração. Criado em 2013, o WIM acumula três funções — gerar conhecimento, coordenar instituições e promover ação e apoio em financiamento, tecnologia e capacitação —, mas ainda luta para transformar essas atribuições em resultados tangíveis. Sua terceira revisão buscou avaliar esse desempenho e discutir formas de articulação com o Comitê Executivo (ExCom), a Rede de Santiago – concebida para apoiar países em desenvolvimento na identificação de necessidades técnicas – e o FRLD. O objetivo é evitar a sobreposição de mandatos e a dispersão de esforços entre diferentes estruturas, que podem reduzir a eficácia dos mecanismos.[14]
As estimativas mais recentes apontam que as necessidades globais de perdas e danos nos países vulneráveis podem chegar a US$395 bilhões anuais até 2025, com variações entre 128 e 937 bilhões, enquanto os compromissos efetivos somam apenas algumas centenas de milhões de dólares.[15] O dilema central é se o WIM seguirá restrito ao campo técnico ou se avançará para o papel de mobilizador de recursos. A COP30, em Belém, será decisiva: se conseguir avançar em diretrizes para operacionalizar o FRLD, articulá-lo com a Rede de Santiago e adotar prazos claros para desembolso, representará um salto de funcionalidade. Caso contrário, corre-se o risco de perpetuar um ciclo em que países vulneráveis continuem arcando sozinhos com impactos da emergência climática.[16]
2.6 Transição justa: um conceito em disputa
O debate sobre a transição justa ganhou corpo em Bonn, a partir da percepção de que não se trata apenas de requalificar empregos ligados ao setor energético, mas de conduzir transformações de “toda a economia” e “toda a sociedade”. Isso inclui princípios como direitos humanos, equidade intergeracional, justiça de gênero, participação dos trabalhadores, respeito aos povos indígenas e sistemas de proteção social.[17] A disputa, no entanto, permanece aberta: países industrializados tendem a restringir o conceito ao universo do trabalho e da energia, enquanto países em desenvolvimento defendem uma abordagem mais ampla, que abranja saúde, desigualdades sociais, adaptação e soberania alimentar.
As discussões indicaram ainda a necessidade de meios de implementação claros — financiamento, transferência tecnológica e capacitação — para que a transição justa não permaneça apenas como promessa abstrata. Belém deverá definir se esse programa se consolidará como instrumento operativo, integrado às NDCs e planos nacionais, capaz de gerar empregos dignos e participação social ampliada, ou se seguirá sendo evocado como princípio, mas sem força prática para orientar políticas.[18]
2.7 Gênero e um novo plano de ação
O tema de gênero esteve presente em Bonn com as primeiras discussões sobre a renovação do Plano de Ação de Gênero (GAP), cuja revisão está prevista para a COP30. O plano busca integrar essa perspectiva em todas as políticas climáticas, reconhecendo que mulheres e meninas são desproporcionalmente afetadas pela crise, mas também exercem papel central na construção de soluções.[19]
Os debates abordaram a necessidade de dados desagregados, orçamentos sensíveis a gênero, valorização do trabalho de cuidado e maior participação das mulheres em espaços de decisão. Persistem, porém, divergências sobre linguagem, recursos e responsabilidades institucionais. Em Belém, espera-se a adoção de uma versão atualizada do GAP, com mandatos claros e vinculação a financiamento, transformando gênero em eixo transversal da ação climática, e não em um anexo periférico das negociações.
2.8 Expectativas para Belém: a promessa da implementação
As negociações de Bonn deixaram claro que a COP30 herda uma lista extensa de tarefas. O desafio de consolidar indicadores globais de adaptação, destravar o novo objetivo financeiro, capitalizar o fundo de perdas e danos, dar corpo ao programa de transição justa e renovar o plano de gênero compõe uma pauta densa e interconectada. Cada ponto reflete tanto a fragilidade quanto a resiliência do processo multilateral: avanços técnicos foram alcançados, mas sem decisões políticas e recursos que lhes deem força prática.
Não por acaso, muitos passaram a chamar Belém de “COP da Implementação”. A arquitetura normativa do regime climático já está em grande parte desenhada: metas de mitigação, mecanismos de adaptação, fundos de compensação e planos de transição. O que falta é transformar essa estrutura em realidade — mobilizar recursos, operacionalizar programas, vincular compromissos a prazos verificáveis. O risco, porém, é que “implementação” se torne apenas novo rótulo, repetido sem alterar a lógica de promessas adiadas.
A contradição fica ainda mais evidente quando se observa a distribuição global de recursos. Em 2024, os gastos militares chegaram a US$2,7 trilhões, enquanto os fluxos climáticos e humanitários permanecem muito abaixo das necessidades estimadas.[20] O contraste mostra que não se trata apenas de arquitetura normativa ou novos compromissos financeiros, mas de como prioridades globais são definidas e sustentadas.
É nesse impasse que se abre espaço para outras forças. Em tempos de instituições desgastadas, emergem movimentos transnacionais que questionam soluções frágeis e oferecem alternativas enraizadas nos territórios. Em Belém, o termômetro não estará apenas nas salas de negociação, mas nas mobilizações indígenas, populares e interreligiosas. Como sinaliza o Papa Francisco na Laudate Deum, trata-se de um multilateralismo que nasce de baixo para cima e coloca a vida no centro da política climática.[21]
3. A COP NO CORAÇÃO DA AMAZÔNIA
A escolha de Belém do Pará como sede da COP30 projeta a Amazônia ao centro da política climática mundial. Mais do que um deslocamento geográfico, trata-se de um gesto simbólico que evidencia a floresta como território vital para o equilíbrio do planeta, mas também como palco de contradições históricas: desmatamento, pressões extrativistas e desigualdades sociais que afetam diretamente os povos da região.
A conferência carrega, assim, uma dupla dimensão. De um lado, inspira pela força dos povos amazônicos e pela possibilidade de enraizar as negociações nos territórios. De outro, desafia pela limitação logística da cidade e pelas tensões políticas internas do Brasil. Esse contraste atravessará todo o evento: enquanto chefes de Estado e negociadores se encontram nas salas oficiais, comunidades, movimentos sociais e igrejas pretendem transformar Belém em um espaço de disputa de narrativas e de afirmação de alternativas.
3.1 A logística da conferência e a mobilização dos povos
Uma cidade de pouco mais de dois milhões de habitantes, com infraestrutura limitada, será chamada a receber dezenas de milhares de delegados, jornalistas, observadores e movimentos sociais. Há preocupações com transporte, hospedagem e conectividade, que exigem esforço extraordinário de preparação do Estado brasileiro e dos organizadores internacionais.[22] Esses aspectos, embora técnicos, não são irrelevantes: estão sendo mobilizados por diferentes atores políticos, inclusive lobbies fósseis e grupos contrários à participação social ampla, como argumento para restringir acessos e credenciais. A logística, portanto, também é campo de disputa no principal palco internacional de decisão climática.
O encontro também obrigará chefes de Estado, negociadores e organizações internacionais a confrontar o território real da Amazônia, com seus rios, comunidades e modos de vida. Para os movimentos sociais, será a oportunidade de mostrar que a transição ecológica precisa sair dos gabinetes distantes e chegar ao chão dos povos, que vivem na linha de frente da emergência climática.
Nesse cenário, distintas mobilizações já estão em curso. A chamada COP das Baixadas, organizada por comunidades periféricas de Belém, pretende evidenciar as desigualdades socioambientais urbanas, mostrando que a crise climática também se expressa nas cidades amazônicas. Já a COP do Povo terá como destaque um Tribunal dos Povos, no qual serão julgadas violações cometidas por empreendimentos contra comunidades indígenas, quilombolas e populações tradicionais. Trata-se de um espaço simbólico de denúncia, mas também de afirmação da centralidade dos direitos humanos no debate climático.
A Cúpula dos Povos projeta mobilizar mais de 15 mil participantes, articulando movimentos sociais de alcance nacional e internacional. Sua proposta é trabalhar a partir de eixos temáticos definidos pelas demandas reais dos povos, como agroecologia, demarcação de terras, transição energética justa e direitos da natureza. Ao lado dessas iniciativas, movimentos ecumênicos e inter-religiosos preparam vigílias, celebrações e a instalação de um tapiri ecumênico, espaço simbólico de diálogo espiritual e intercultural, que pretende afirmar que a luta climática é também questão ética e de fé.
Essas mobilizações não se colocam à margem da conferência oficial, mas a tensionam, oferecendo contrapontos às negociações formais e denunciando “falsas soluções” que favorecem mercados em detrimento de direitos. Também elaboram alternativas concretas — do reconhecimento da dívida ecológica à convivência com os biomas —, sinalizando que a implementação de compromissos globais só será possível se enraizada nos territórios. Dentre as lutas, o protagonismo será indígena. Lideranças já anunciaram que levarão a Belém a pauta da demarcação e titulação de terras como eixo de justiça climática, ecoando dentro e fora das negociações a NDC dos povos ancestrais.[23]
3.2 Disputa de forças dentro do governo
Comparada às últimas Conferências do Clima, espera-se que em Belém haja maior abertura à participação social — resultado tanto do prestígio internacional que o Brasil busca reafirmar quanto da força dos movimentos locais. Essa postura vem sendo reforçada por mecanismos articulados pelo Itamaraty, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e pela Secretaria Extraordinária para a COP30, que incluem o credenciamento de representantes da sociedade civil, o Ciclo CoParente para cadastramento indígena, os “balanços éticos globais” autogestionados, o mutirão pela ação climática global e a plataforma digital Maloca, disponível em várias línguas para ampliar o acesso remoto.
Paralelamente, emergem tensões políticas e legislativas que contradizem esse esforço. O PL da Devastação (PL 2.159/2021) — que conta com 63 vetos presidenciais — flexibiliza o licenciamento ambiental e reduz exigências para empreendimentos “estratégicos”.[24] Já enquanto ocorria a Conferência de Bonn, o governo leiloou 172 blocos de petróleo — 47 deles na sensível Foz do Amazonas —, reforçando a dissonância entre discurso climático e prática governamental.[25] Em Belém, essa contradição poderá ser explorada por atores internacionais e testará até que ponto o Brasil conseguirá conciliar liderança climática e pressões internas.
4. A PERSPECTIVA DAS IGREJAS
A conferência em Belém, para além das negociações técnicas, será também espaço de afirmação de valores éticos, espirituais e civilizatórios. No caminho rumo à COP30, Igrejas do Sul Global, a Cáritas Brasileira, o movimento ecumênico e outros organismos de fé têm incidido pela centralidade da justiça climática, dos direitos humanos e do cuidado com a Criação. Suas propostas dialogam com uma leitura crítica do processo climático internacional, marcado pela insistência em “falsas soluções” — como a mercantilização dos mercados de carbono e a financeirização da natureza — e pela ausência de compromissos robustos com os povos mais vulneráveis.
Neste percurso, a Cáritas Brasileira lançou seu Documento de Posições para a COP30 — “Por uma transição justa, inclusiva, popular e democrática” — fruto de ampla escuta da Rede Cáritas Nacional.[26] O documento, organizado em sete eixos estratégicos, diagnostica a emergência climática e propõe diretrizes concretas para o governo brasileiro com base em experiências desenvolvidas nos territórios. Entre os temas centrais estão: justiça fiscal no financiamento climático, reconhecimento de perdas e danos imateriais, uma transição energética que respeite territórios, a agroecologia como política estruturante e consulta livre e informada às comunidades tradicionais afetadas por grandes empreendimentos. Com esse posicionamento, a Cáritas reforça que enfrentar a emergência climática é também enfrentar desigualdades históricas e construir novos pactos de sociedade.[27]
As Igrejas do Sul Global, por sua vez, apresentaram em julho de 2025 o documento conjunto “Um Chamado por Justiça Climática e a Casa Comum”. Nele, condenam explicitamente modelos extrativistas e tecnocráticos que seguem explorando recursos naturais e marginalizando comunidades, além de rejeitarem “soluções de mercado” como compensações de carbono. Em contraste, afirmam a necessidade de uma transição centrada na dignidade humana, na restauração dos ecossistemas, na proteção dos territórios indígenas e na valorização de alternativas locais. A esperança se constrói, assim, pela denúncia à cultura do descarte e pela conversão ecológica dos povos, ressoando de modo particular na Amazônia.[28]
Em paralelo, o movimento ecumênico redigiu um Chamado à Ação, entregue diretamente à Ministra Marina Silva em março de 2025. O documento pede maior protagonismo das comunidades de fé, defende a centralidade dos povos indígenas e quilombolas, convoca a juventude e insiste na urgência de mecanismos que reconheçam tanto dimensões materiais quanto imateriais da devastação climática.[29]
Belém, portanto, pode se tornar um marco simbólico da presença das Igrejas e movimentos de fé nas negociações climáticas. Vigílias, celebrações inter-religiosas e o tapiri ecumênico pretendem afirmar que a luta contra a emergência climática é também um chamado espiritual e ético. Se os povos forem ouvidos e os canais entre a base e as mesas permanecerem abertos, a COP30 poderá inaugurar uma institucionalidade mais plural, enraizada nos territórios e conectada às distintas fés e espiritualidades dos povos.
5. CONCLUSÃO
A COP30 reúne, em Belém, as contradições que marcam todo o processo climático: avanços técnicos sem recursos garantidos, promessas políticas sem prazos definidos e compromissos adiados diante de uma emergência que não espera. Ainda assim, a escolha da Amazônia como palco global confere ao encontro caráter simbólico único: mais que um fórum de negociações, ele se torna espaço de disputa sobre o sentido da própria transição ecológica.
Como sinaliza o Papa Francisco, a emergência climática não pode ser reduzida a debates técnicos ou cálculos de mercado,[30] mas exige conversão profunda — ecológica, social e espiritual — capaz de transformar prioridades políticas, estilos de vida e relações de poder.[31] Nesse horizonte, a COP30 pode não resolver impasses estruturais, mas fortalecer um movimento mais amplo, enraizado nos povos e comunidades, iluminando uma conversão que transcenda o individual e alcance o “comunitário”.[32]
Belém talvez não encerre o ciclo de promessas adiadas que marcou as últimas três décadas de negociações. Mas pode inaugurar uma nova gramática da esperança, em que povos e práticas ganham centralidade na transição ecológica. Seu legado será o de saída real para os territórios, com fortalecimento das alianças transnacionais, das comunidades locais e da mobilização ética e espiritual que, da Amazônia, se projeta ao mundo.
Padre Dario Bossi, mccj
[1] LS 54.
[2] LS 217, LS 219.
[3] UNFCCC. The Kyoto Protocol. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol>
[4] OECD. Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022. 2024. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/publications/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2022_19150727-en/full-report.html>
[5] UNFCCC. The Paris Agreement. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf>
[6] UNFCCC. Report of the Conference of the Parties on its twenty-seventh session, held in Sharm el-Sheikh from 6 to 20 November 2022. 2023. Disponível em: <http://unfccc.int/documents/626561>
[7] UNFCCC. Outcome of the First Global Stocktake. 2023 Disponível em: <https://unfccc.int/topics/global-stocktake/about-the-global-stocktake/outcome-of-the-first-global-stocktake>
[8] UNFCCC. Final list of potential indicators, UAE–Belém work programme on indicators. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/documents/649629>
[9] IISD. Earth Negotiations Bulletin. 2025. v. 12, n. 869. Disponível em: https://enb.iisd.org/sites/default/files/2025-06/enb12869e.pdf
[10] UNEP. Adaptation Gap Report 2024. 2024. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2024>
[11] UNFCCC. Roadmap Baku-Belem. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/baku-to-belem-roadmap-to-13t>
[12] UNEP, op cit.
[13] COP30. Lula and Guterres urge NDC submission: “Without them, the planet walks in the dark”. 2025. Disponível em: <https://cop30.br/en/news-about-cop30/lula-and-guterres-urge-ndc-submission-without-them-the-planet-walks-in-the-dark>
[14] L&D COLLABORATION. What Is at Stake Under the Third Review of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. 2025. Disponível em: <https://www.lossanddamagecollaboration.org/resources/what-is-at-stake-under-the-third-review-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage>
[15] Markandya, A., & González-Eguino, M. (2019). Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A Critical Review. In R. Mechler, L. M. Bouwer, T. Schinko, S. Surminski, & J. LinneroothBayer (Eds.), Loss and Damage from Climate Change (pp. 343–362). Springer International Publishing. https://oi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
[16] C2ES. The 2024 Review of the Warsaw International Mechanism: Considerations for COP30. 2025. Disponível em: <https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2025/06/20250617-C2ES-The-2024-Review-of-the-WIM-Considerations-for-COP30.pdf>
[17] UNFCCC. Informal Note on United Arab Emirates Just Transition Work Programme. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/JTWP_dt_sb62_DD.pdf>
[18] CAN EUROPE. Debrief from UN Climate talks Bonn: Just transition progress, but EU must step up to avoid COP30 failure in Belém. 2025. Disponível em: <https://caneurope.org/bonn-reaction-2025/>
[19] UNFCCC. The Gender Action Plan. 2025. Disponível em: <https://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-gender-action-plan>
[20] SIPRI. Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges. 2025. Disponível em: <https://www.sipri.org/medfia/press-release/2025/unprecedented-rise-global-military-expenditure-european-and-middle-east-spending-surges>
[21] LD 38.
[22] THE GUARDIAN. UN holds emergency talks over sky-high accommodation costs at Cop30 in Brazil. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2025/jul/30/un-emergency-talks-sky-high-accommodation-costs-cop30-brazil>
[23] APIB et al. NDC dos Povos Indígenas do Brasil. 2025. Disponível em: <https://apiboficial.org/files/2025/08/250804-NDC-Indígena-Documento-Final.pdf>
[24] THE GUARDIAN. Brazil’s president signs environmental ‘devastation bill’ but vetoes key articles. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2025/aug/08/brazil-president-lula-devastation-bill-law-environment>
[25] THE GUARDIAN. Brazil to auction oil exploration rights months before hosting Cop30. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/13/brazil-to-auction-oil-exploration-rights-months-before-hosting-cop30>
[26] CÁRITAS BRASILEIRA. Documento de posições para a COP30. 2025. Disponível em: <https://caritas.org.br/divulgacao/42>
[27] CÁRITAS BRASILEIRA. Cáritas Brasileira lança documento com propostas para a COP30 e defende transição justa e popular. 2025. Disponível em: <https://caritas.org.br/noticias/caritas-brasileira-lanca-documento-com-propostas-para-a-cop30-e-defende-transicao-justa-e-popular?>
[28] CELAM; FABC; SECAM. Um Chamado por Justiça e a Casa Comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções. 2025 Disponível em: <https://www.cidse.org/2025/07/01/churches-of-the-global-south-call-for-climate-justice-resisting-false-solutions-and-standing-for-hope/>
[29] MOVIMENTO ECUMÊNICO. Um Chamado à Ação. 2025. Disponível em: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/a-call-to-action-towards-cop30>
[30] LD 57.
[31] LS 11, LS 217.
[32] LS 219.